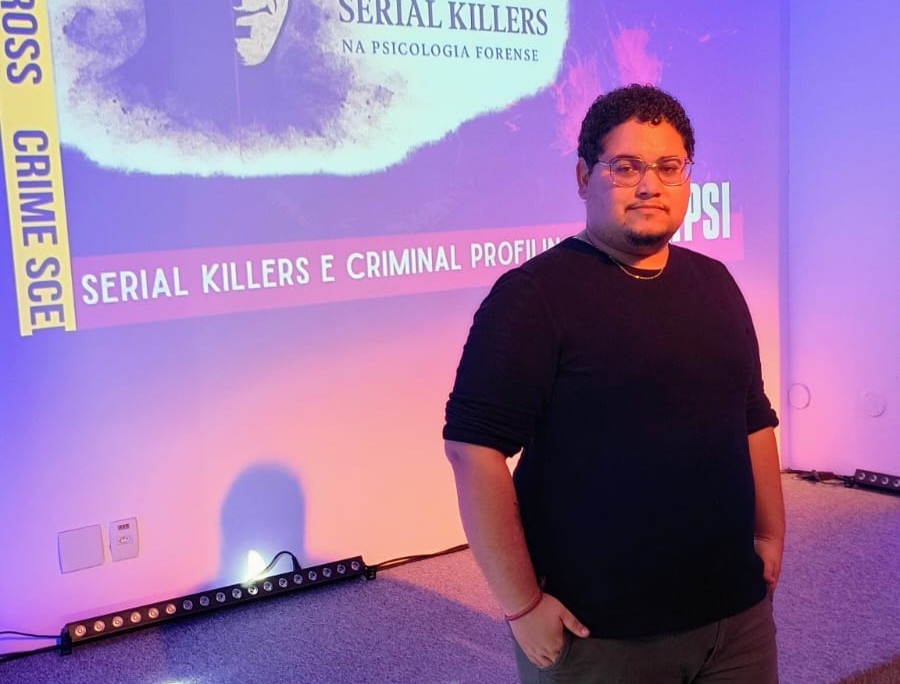*Por Nicollas Rosa de Souza, neuropsicólogo e coordenador da BRAPSI*
O feminicídio é uma das expressões mais brutais das desigualdades de gênero que atravessam a sociedade brasileira. Mais do que um problema de segurança pública, ele reflete uma estrutura social que ainda legitima o controle e a violência sobre o corpo e a vida das mulheres. A cada novo caso, o país expõe não apenas a falha de seus mecanismos de proteção, mas também a persistência de valores que sustentam o machismo e a desumanização feminina. A violência de gênero, portanto, não nasce do acaso, ela é resultado de uma cultura construída ao longo de gerações, em que o poder masculino foi naturalizado e a autonomia feminina, frequentemente negada.
Os números ajudam a dimensionar essa tragédia. Segundo o Atlas da Violência 2025 (Ipea/FBSP), entre 2022 e 2023 o número de homicídios de mulheres cresceu 2,5%, contrariando a tendência geral de queda dos homicídios no país. Na média nacional, dez mulheres foram assassinadas por dia em 2023, e 68,2% das vítimas eram negras. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública registrou 1.463 feminicídios apenas em 2023, mais de quatro por dia, totalizando 10.655 casos entre 2015 e 2023. Esses dados representam vidas interrompidas por uma lógica social que ainda enxerga as mulheres como objetos de posse e não como sujeitos plenos de direitos.
A explicação para essa realidade não está restrita à criminalidade, mas às estruturas culturais e sociais que sustentam o comportamento violento. A grande causa da violência contra a mulher é o machismo estruturante da sociedade brasileira, que se manifesta de forma sutil no cotidiano. Práticas aparentemente inofensivas, como o ciúme justificado, a desvalorização da autonomia feminina ou a naturalização da sobrecarga doméstica, alimentam uma cultura de desigualdade e controle. O machismo cotidiano serve como base simbólica para a violência extrema.
Quando a sociedade tolera piadas sexistas, culpabiliza vítimas ou relativiza comportamentos abusivos, reforça a ideia de que o corpo e a vida das mulheres estão à disposição de um poder masculino. Esse ambiente cria as condições psicológicas e culturais para o agressor agir, sentindo-se amparado por uma lógica que o absolve e por uma comunidade que silencia. É nesse ponto que o feminicídio deixa de ser um ato isolado e passa a representar o ápice de uma cadeia de violências normalizadas.
Sob o olhar da psicologia forense, essa dinâmica é previsível. O agressor internaliza uma crença de superioridade masculina e passa a enxergar a mulher como extensão de si, e não como sujeito autônomo. Quando a vítima tenta romper esse vínculo de controle, ele interpreta a atitude como uma ameaça à própria identidade, o que pode desencadear comportamentos letais. O discurso do “crime passional”, ainda presente em muitos julgamentos, reforça esse desequilíbrio, tratando a morte da mulher como uma reação emocional, e não como a expressão de poder e posse que de fato é.
A escalada da violência costuma ser gradual. Ela começa com o isolamento emocional, passa pelo controle psicológico e evolui para agressões físicas cada vez mais severas. De acordo com pesquisa do Datafolha encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública de março deste ano, mais de 21 milhões de brasileiras, 37,5% do total de mulheres, sofreram algum tipo de agressão nos últimos 12 meses. Muitas vítimas buscam ajuda, mas não encontram acolhimento efetivo, e a ausência de resposta do Estado e da sociedade funciona como um estímulo indireto ao agressor, que passa a agir com a certeza da impunidade.
Interromper esse ciclo exige encarar o feminicídio como um problema social e não apenas criminal. Medidas punitivas são necessárias, mas insuficientes se não houver transformação cultural. É fundamental investir em educação de gênero desde a infância, em políticas de prevenção e em redes de proteção que funcionem de forma articulada entre saúde, segurança pública e assistência social. A formação de meninos e meninas deve incluir o aprendizado sobre respeito, empatia e igualdade como pilares da convivência humana, para que as futuras gerações não repitam os padrões que hoje ceifam vidas.
Também é essencial combater o silêncio social que perpetua a violência. A omissão diante de sinais de abuso, seja no ambiente familiar, escolar ou profissional, representa uma forma de conivência. Falar sobre machismo e desigualdade não é uma opção, mas um dever coletivo. Só haverá redução dos índices de feminicídio quando cada cidadão se reconhecer como parte ativa na transformação dessa realidade, rompendo com estereótipos que desumanizam mulheres e naturalizam o abuso.
Portanto, os números alarmantes do feminicídio não são uma fatalidade, mas o reflexo direto da cultura que construímos e perpetuamos. Reduzi-los depende de uma coragem coletiva e política capaz de enfrentar as raízes do problema e de sustentar mudanças duradouras. O Brasil precisa substituir a lógica da dominação pela da convivência, do controle pela empatia e do poder pela parceria. A transformação que buscamos não virá apenas de leis mais severas, mas do reconhecimento de que cada gesto, palavra e escolha social contribui para moldar o tipo de país em que vivemos. Enfrentar o feminicídio, portanto, é decidir que tipo de humanidade queremos preservar, e que vidas estamos dispostos a proteger.
*Nicollas Rosa de Souza é psicólogo, fundador e coordenador da Brapsi, startup de psicologia voltada à inovação e à pesquisa em saúde mental. Atua nas áreas de psicologia social, neuropsicologia, sexualidade e gestão de projetos educacionais.