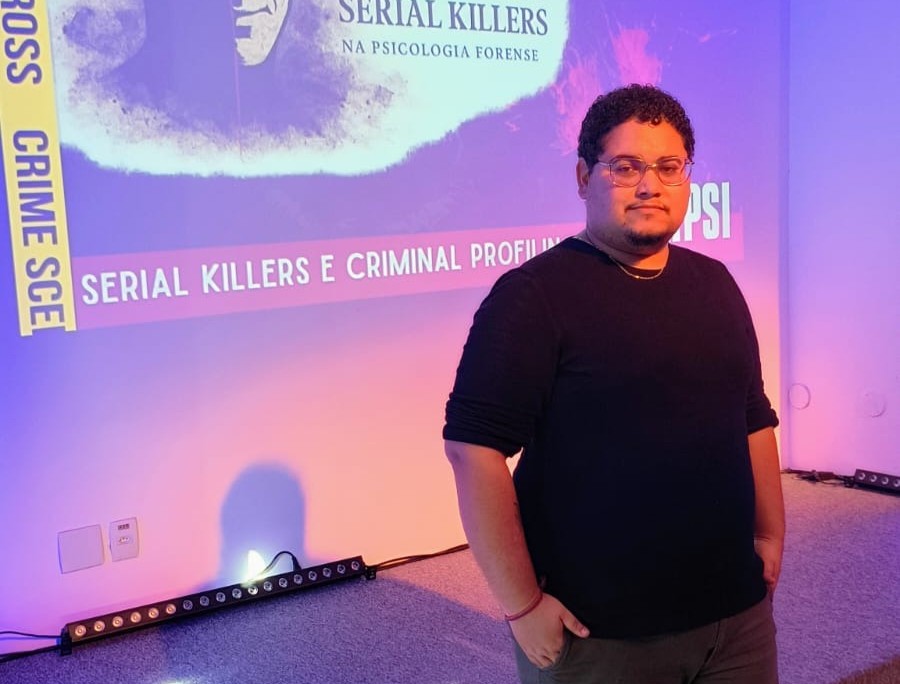Da Redação
A recente megaoperação policial no Rio de Janeiro, que deixou mais de 120 mortos segundo dados da Polícia Civil, reacendeu o debate sobre os efeitos psicológicos da violência urbana. O estado fluminense tem as maiores taxas de letalidade policial do país, com mais de 1.300 mortes registradas em 2024, de acordo com o Instituto de Segurança Pública (ISP). Mas para além dos números, o impacto mais silencioso, e talvez mais duradouro, está na mente da população.
Pesquisas da Fiocruz e da UFRJ apontam que moradores de áreas conflagradas têm até três vezes mais chances de desenvolver ansiedade, depressão e transtorno de estresse pós-traumático (TEPT). Esse cenário revela um quadro de sofrimento psíquico coletivo, marcado pela naturalização da violência, sensação de impotência e dessensibilização emocional, fenômeno em que a repetição de situações traumáticas leva à perda gradual da empatia e da capacidade de se afetar.
De acordo com Nicollas Rosa de Souza, neuropsicólogo e fundador da BRAPSI, plataforma digital dedicada à educação em psicologia e saúde mental, o que acontece no Rio não é apenas um problema de segurança, mas de saúde mental coletiva. “A população fluminense vive há décadas sob um estado de alerta permanente — e isso corrói lentamente as estruturas cognitivas e emocionais da vida cotidiana. A violência é também uma mensagem simbólica de medo e impotência que se inscreve no corpo e no comportamento das pessoas”, afirma.
Segundo o especialista, essa crise de saúde mental também alcança os próprios agentes de segurança. Fatores como à pressão operacional e à falta de suporte emocional institucional cria um ciclo de adoecimento que reforça o quadro de sofrimento coletivo e afeta diretamente o modo como os policiais se relacionam com a sociedade. A BRAPSI vem ampliando o debate sobre Psicologia, Violência e Sociedade, promovendo discussões sobre os impactos cognitivos e emocionais de viver sob constante ameaça. A instituição defende que compreender o que a violência faz com a mente é essencial para qualquer política pública que busque reconstruir vínculos comunitários e reduzir a alienação social.
Além de analisar os efeitos psicológicos da violência, Nicollas Rosa propõe discutir o tema sob uma ótica neuropsicológica e social, abordando como o medo crônico altera o funcionamento cerebral, influencia a percepção da realidade e enfraquece laços de confiança entre cidadãos e instituições. “Quando a sociedade começa a normalizar o absurdo, entramos em um processo de dessensibilização que impacta a empatia, a confiança e o senso de humanidade. A Psicologia precisa ocupar esse debate: entender o que a violência faz com a mente é essencial para qualquer projeto de reconstrução social e para compreender o real impacto de operações e repercussões como a que tivemos nesta semana”, conclui.